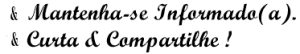Na manhã de 28 de outubro de 2025, mais de 2 500 agentes das polícias civil e militar do Estado do Rio de Janeiro deflagraram a operação que entrou para os anais como uma das mais letais da história recente do país: nos complexos da Penha e do Alemão, numa ofensiva anunciada como “guerra ao Comando Vermelho”, a contagem oficial oscilava entre 58 mortos, segundo o governador, e até 132 conforme a Defensoria Pública.
Corpos empilhados, ruas bloqueadas, blindados, troca de tiros, barricadas em chamas: uma favela transformada em campo de batalha, e vidas perdidas avalizadas pelo Estado.
Este não é um episódio isolado e menos ainda uma falha pontual. Ele pertence a uma longa linha de operações de segurança pública no Brasil que, em vez de proteger vidas, normalizam a eliminação de corpos indesejados — pobres, negros, periféricos, indígenas, quilombolas, sem-terra, sem-teto. A frase “bandido bom é bandido morto”, reiterada por segmentos bolsonaristas, funciona como carcereiro ideológico dessa lógica: o Estado assume o papel de executor, e seus agentes, de julgadores-coveiros, justiceiros que agem sem a Justiça.
Mas o que há além do espetáculo de armas e mortes? O que sustenta a máquina que mata e silencia? A resposta reside no entrelaçamento das forças de segurança com interesses imobiliários, latifundiários e do crime organizado — aliados invisíveis, cúmplices ativos, que transformam territórios de pobreza em zonas de controle, expulsão e lucro.
A lógica da eliminação
O cerne dessa lógica se dá em três movimentos: primeiro, a narrativa de que a segurança exige corpos abatidos (“bandido bom é bandido morto”). Segundo, a prática operacional em que a polícia entra em favelas ou acampamentos de modo truculento, espalha o terror com fuzis, helicópteros e tanques — mas também viabiliza expulsões, reintegrações de posse e abertura de terrenos para incorporação imobiliária. E terceiro, o vínculo entre agentes do Estado, milícias e facções: enquanto as forças de segurança invadem comunidades, milicianos fornecem o armamento ou facilitam o tráfico, alimentando o ciclo de morte que, em última instância, beneficia o capital e o latifúndio.
No Rio, as milícias que emergiram do aparato policial transformaram-se em empreiteiras, loteadoras, controladoras de serviços públicos informais e até de “segurança privada”. No campo, terras populares atravessam reintegrações brutais para dar lugar a loteamentos privados ou à expansão de latifúndios. É nessa engrenagem que a morte do outro se torna instrumento de estabilização econômica e poder político.
No episódio do Alemão e da Penha, a polícia justificou a operação como combate à facção. Contudo, o que vemos é muito mais: o Estado que mata enquanto promove a remoção, a invisibilidade e a expulsão de corpos que estorvam. A memória da ditadura militar está viva em cada helicóptero que baixa sobre a favela, em cada tiro que ecoa na viela, em cada nome que não será investigado.
Memória, invisibilidade e impunidade
A história mostra que esse padrão não começou ontem. Nos anos de chumbo da ditadura, grupos como o Esquadrão da Morte—formado por policiais civis e militares no final dos anos 1960—matavam jovens negros e pobres, em São Paulo e no Rio, com apoio tácito do Estado.
Na década de 1990, o massacre no Carandiru (111 mortos), as chacinas em Vigário Geral (21 mortos) ou Candelária (8 mortos) evidenciaram que a “normalização da morte” prosseguiu no regime democrático.
Mais recentemente, reintegrações forçadas, expulsões de sem-terra e sem-teto, ataques a indígenas e quilombolas completam o mosaico da violência de Estado.
A tabela abaixo reúne uma cronologia de episódios — que inclui também agressões a indígenas, quilombolas, sem-terra e sem-teto — evidenciando que matar e expulsar é política de Estado tanto quanto construir é negócio privado.
| Ano
|
Caso / Operação | Local | Nº mortos (aprox.) | Autores apontados |
| 1968–75 | Esquadrão da Morte | SP / RJ | 1.000–3.000 | Policiais civis/militares (DOPS/DEIC) |
| 1974 | Operação Camanducaia | SP → MG | dezenas (97 jovens) | Policiais civis do DEIC-SP |
| 1992 | Massacre do Carandiru | SP (presídio) | 111 | Polícia Militar de SP |
| 1993 | Chacina da Candelária | RJ | 8 | Policiais / milicianos |
| 1993 | Chacina de Vigário Geral | RJ | 21 | Policiais / paramilitares |
| 1995 | Massacre de Corumbiara | RO | 10–16* | Polícia Militar + jagunços |
| 1996 | Massacre de Eldorado dos Carajás | PA | 19 | Polícia Militar do Pará |
| 2005 | Chacina da Baixada | RJ (Baixada Fluminense) | 29 | Policiais militares / grupo de extermínio |
| 2012 | Desocupação do Pinheirinho | SP (São José dos Campos) | mortes não confirmadas¹ | Polícia Militar de SP |
| 2013 | Crise e massacres em Pedrinhas | MA (presídio) | dezenas (vários episódios) | Estado / facções |
| 2017 | Motins em presídios (Alcaçuz, Manaus, RR) | RN, AM, RR | dezenas (ex.: 26) | Facções + Estado falho |
| 2021 | Operação Jacarezinho | RJ | 27 | Polícia Civil do RJ |
| 2025 | Operação no Complexo do Alemão / Penha | RJ | dezenas-centenas | Governo do RJ -Cláudio Castro |
*Estimativa de testemunhas maior que oficial
¹Estimativas falam em 1–2 mortes confirmadas e milhares de pessoas removidas
O que esse arquivo revela
Ele revela que o Estado brasileiro sistematicamente recorreu à eliminação de vidas como meio de gestão social e territorial. Ele revela que corpos periféricos foram descartados para abrir espaço à valorização imobiliária, ao controle das favelas, ao domínio dos latifundiários. Ele revela que a segurança pública transformou-se em um negócio da morte: milícias armadas, reintegrações de posse violentas, tráfico de terras e expulsões que beneficiam quem já tem.
A responsabilidade política
Quando políticos repetem slogans como “bandido bom é bandido morto”, ou promovem operações que resultam em centenas de mortos com pouca transparência, eles não estão apenas discursando: eles estão institucionalizando a morte. E as forças de segurança que operam nessas condições continuam contaminadas por uma cultura autoritária, herdeira da ditadura, que vê o pobre como inimigo interno e a favela como trincheira a ser varrida.
O episódio do Alemão/Penha não é um ponto fora da curva — é expressão viva de uma máquina que mata para que os privilégios permaneçam. Não basta investigar cada operação isoladamente: é preciso desmontar o regime de poder que considera corpos descartáveis. É preciso exigir investigação, transparência, reparação e uma política de segurança que respeite a vida humana. Porque matar em nome da ordem só consolida a desigualdade — e faz da República uma farsa.
Redação com Brasil